A temporada do futebol no Brasil em 2019 está aberta. A preparação dos clubes já começou, as contratações estão chegando ou sendo negociadas e os campeonatos estaduais iniciam-se nos próximos dias. A dança das cadeiras dos técnicos marca o pontapé inicial deste planejamento e o cenário no país do futebol não muda: nenhum dos profissionais no comando de uma das 20 esquipes da Primeira Divisão nacional é negro.
É mais uma daquelas constatações que o senso comum ~branco~ vai explicar como ~coincidência~, mas que exemplifica o quão estrutural é o racismo na sociedade tupiniquim. E mesmo em segmentos em que seria natural pensar em um maior equilíbrio de forças, dado o protagonismo dos atletas afrodescendentes no esporte (tanto neste, quanto em outras modalidades), quando se esgota a exploração do pé de obra, não há espaço para a continuação de sua carreira.
 Podemos citar poucos casos recentes turbulentos: o ex-jogador Andrade foi campeão brasileiro em 2009 comandando o Flamengo, mas não obteve continuidade, nem espaço em outras agremiações de grande porte – além de ter, constantemente, seu papel na conquista diminuído; Cristóvão Borges, também ex-futebolista, circula entre trabalhos sempre sendo questionado (em contraponto à boa vontade com alguns “escolhidos” da mídia e do público); Lula Pereira, que foi zagueiro, entre meados dos anos 1990 e início dos 2000, não viu sua carreira decolar. E os exemplos são poucos.
Podemos citar poucos casos recentes turbulentos: o ex-jogador Andrade foi campeão brasileiro em 2009 comandando o Flamengo, mas não obteve continuidade, nem espaço em outras agremiações de grande porte – além de ter, constantemente, seu papel na conquista diminuído; Cristóvão Borges, também ex-futebolista, circula entre trabalhos sempre sendo questionado (em contraponto à boa vontade com alguns “escolhidos” da mídia e do público); Lula Pereira, que foi zagueiro, entre meados dos anos 1990 e início dos 2000, não viu sua carreira decolar. E os exemplos são poucos.
A cada subida de degrau na escala de poder do futebol, a identificação de personalidades negras vai diminuindo. Um gerente de futebol, um diretor, um vice-presidente, um presidente… Enquanto isso, o camisa 10 da seleção é preto (mesmo que não se reconheça como tal); a maior venda recente de um clube nacional foi um jovem negro de 18 anos que se destaca na Espanha; a próxima joia a chegar a Europa também é um “menino de cor”. Sem falar de Pelé e outras estrelas.
Há questões como a base social em qual o futebol se fundamenta no Brasil. Mais do que exercício, é um caminho de ascensão. Dentro deste cenário, somado a uma necessidade de dedicação precoce e a deficiência educacional geral da maioria da população, os jogadores – uma minoria – tornam-se personagens complexos: imberbes milionários sem uma ampla base familiar e educacional. A maioria, que vive de salário mínimo, quando sai, não tem base ou apoio para investir em repertório.
A Confederação Brasileira de Futebol, especialmente, os clubes e os sindicatos de atletas estão interessados apenas na elite e as cifras astronômicas que ali circulam do quê em fomentar uma rede de apoio ao atleta profissional do país – os “carregadores de piano”. Por consequência, os espaços e a representatividade nos negócios do mundo da bola são impactadas. Menos gente na mesa, mais oportunidades pro status quo manter sua política segregacionista.
Mesmo nas áreas acessórias ao esporte, como o jornalismo esportivo, a identificação é mínima. Situações como a dos ex-jogadores Grafite e Paulo Cesar Caju tornarem-se comentarista ou dos comunicadores Sérgio Norna e Paulo Cesar Vasconcelos obterem espaço na televisão são exceções que confirmam a regra. Os espaços são fechados e se naturaliza a ideia de que é assim mesmo, além de se dizer que “aqueles” só servem pra correr e chutar bola.
Há um século os pretos não podiam disputar partidas de futebol (olha o pó de arroz); há 69 anos estavam acusando os negros de não terem aptidão para o esporte devido a derrota na final da Copa de 1950; há 55 anos o jornalista e escritor Mário Filho lançava o seminal “O negro no futebol brasileiro”. Historicamente, como a estruturação do movimento negro e do combate contundente ao racismo, é pouco tempo. Os adversários estão tentando nos golear, mas a partida ainda está rolando.

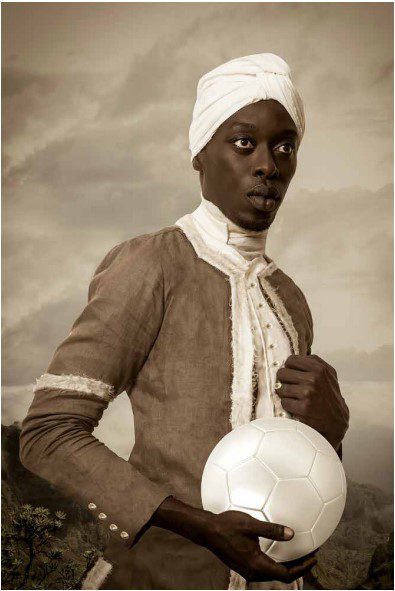









0 Replies to “ Bola em jogo”