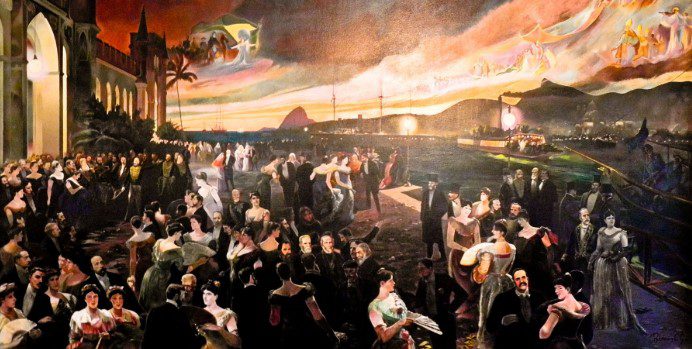Por Monique Prado*
Eu venho pensando sobre a intersecção entre linguagem, negritude e performance com o objetivo de compreender os processos de recreação do corpo negro na diáspora. Durante esse processo me interessa fazer um estudo comparado entre os efeitos produzidos no inglês negro – AAVE (African American Vernacular English) e no que Lélia Gonzalez chamou de pretuguês.
A hipótese levantada vai ao encontro da perspectiva de González quando fala dos elementos africanos na linguagem. Contudo, para além da gama de vocabulário, quero fazer uma análise também no campo da linguística, tendo como consequência, a performance corporal, a entonação, o compasso, a dicção, a semântica e por que não a própria gramática.

Quero fazer um estudo comparativo entre a sociedade brasileira e a sociedade americana nesse sentido de abordar a língua como algo que não foi apropriado de forma alguma porque foi imposto pelos colonizadores, mas uma vez que tiveram que usar a língua no dia a dia, pessoas diaspóricas começaram a recriar algo. Isto é, estou apenas dizendo que quero fazer uma pesquisa intercultural e ter certeza de que posso entender potenciais similaridades em ambas as línguas, muito menos comum padrão mas como um forte indicativo dessa influência africana na linguagem que ultrapassa o campo da gramática.
Quando uma pessoa negra fala, há um compasso marcado na linguagem que se aproxima de uma experiência transatlântica que acumula cadência africana. No contexto contemporâneo isso é percebido no universo da música e da poesia, em que fora das marcações eruditas da fala, encontramos por meio da linguagem, o corpo Preto transbordando.
Exemplos disso encontramos nas poetas do Slam, do Funk, do Rap. Essas alterações na linguagem, como argumentou Lélia Gonzalez ao explicar sobre o pretuguês, faz parte do grande aparato linguístico provocado pelo jeito de falar e volume de palavras introduzidos no Português como: caçula, dengo, moleque, quitute, miçangas, etc., mas para além disso, pretendo investigar como que a linguagem negra configurou códigos outros que escorregam a linha limítrofe das regras rígidas colonialistas.
Você sabe quando está conversando com um português ou com brasileiro, às vezes é até impossível entender. Lembro de quando estava conversando com uma pessoa de Cabo Verde, e tivemos que usar o inglês para mediar nossa conversa porque parecia que estávamos falando dois tipos de português. E se for pensar o efeito do colonialismo, as duas línguas são essencialmente impostas nas Américas no contexto colonial.
A coroa portuguesa juntamente com a Igreja Católica, por exemplo, obrigava aos nossos antepassados africanos que rezassem o “Pai Nosso”, servindo como um mecanismo de doutrinação, seja pela linguagem, seja pela religiosidade. Esse ritual violento de chegada era justamente para impor uma cosmologia na apagamento da outra.
A sagacidade foi justamente dar uma rasteira na linguagem como mais tarde vai nos ensinar Gonzalez ao analisar a figura da mãe preta. Quando se trata da influência em toda a estrutura da língua, ou eu diria da linguística, nossos ancestrais, tiveram o cuidado de assumir o controle da narrativa, dando passadas sorrateiras como um gato que só é pego quando faz algum barulho ao derrubar alguma coisa e aí nesse momento o barulho se torna estrondoso. Por consequência, seja na maneira como soletramos, ritmizamos e desorganizamos o Português de Portugal, isso trouxe uma codificação exclusivamente negra.
Aqui pode ser que alguém ache esse embate vazio ou facilmente refutável, no sentido de olhar o português com matéria-prima e a linguagem preta, algo que é o produto desse contato entre colonizador e colonizado. No entanto, esse embate acionaria o desejo de conservar algo que já não existe mais, a partir do momento em que o primeiro africano falou nesse território, já que a dinâmica da linguagem altera o modelo.
Imagine que essa pessoa sequestrada de seu continente, com todas as privações que enfrentou pelo processo visceral e violento do Transatlântico, desembarca nesse território e precisa rezar o “Pai Nosso”. Ramose nos faz refletir sobre um princípio que se se espraia pela filosofia bantu, chamada de NTU, podendo ser traduzida como a energia e a força vital existente em tudo que vive.
Ora, se por um lado, para o colonizador rezar o “Pai Nosso” representaria matar o africano que existe dentro dessa pessoa cativa, por outro, ao acionar a língua do colonizador o escravizado encontra maneiras de constantemente insubordinar consciente ou inconscientemente essa linguagem e aqui flagramos um importante reagente: a performance!
O africano vê-se então confuso, pois após meses de travessia a primeira coisa que é acionada é a linguagem não a sua, mas a do seu algoz. Um africano fragilizado em sua psiquê e emocionalidade, ao chegar em território estrangeiro, como o primeiro ato precisa falar uma língua que não é sua. Dentro desse corpo que outrora vibraria a força vital na plenitude, quando encontra-se em território desconhecido, recria e codifica a fala.
Instintivamente o desejo de subsistir foi maior, visto que os portugueses garantiram a separação dos principais grupos étnicos tais como: banto, iorubás, jejes, fanti-ashantis, fulas, mandingas, haussás e tapas, grupos esses com linguagens próprias e secular, os quais tiveram que se submeter a linguagem colonialista. Deste modo, causar embaraço na linguagem colonial quando se está no sistema de hipervigilância sobre o seu corpo e a suspensão da sua condição subjetiva é então “aniquilar o branco que existe dentro de nós”.
Leia também:
Abdias fala da necessidade de o povo negro se libertar da lógica colonial, racista e eurocêntrica que foi introjetada ao longo da escravidão e da colonização. Neusa Santos também concorda com essa máxima de que só é possível uma subjetividade plena quando o negro se afasta de um ideal de ego branco. E isso está em consonância com uma literatura negra pensada em a Aimé Césaire e Franz Fanon, o primeiro construindo a noção de Negritude, e o segundo pensando a subjetividade negra desvencilhando-se de valores brancos para pensar a condição de sua própria ontologia e da linguagem.
Apesar de não ter a força de interromper a linguagem uma vez que os seus próprios modos de existir e falar estavam completamente interditados sobre vigilância de um aparato militar carnificina, o africano dinamizou a linguagem, porque colocando em circulação uma outra forma de dizer produzida a partir do corpo, justamente porque além da multiplicidade de linguagens africanas, existe a confluência com a linguagens indígenas. Em que pese o esforço da normativa na linguística, essa equação produziu e produz um léxico que, se por um lado, não foi capaz de interromper o português, reconfigurou o seu esqueleto.

Monique Prado é educadora, advogada e mestra em Humanidades, Direitos e outras Legitimidades pela USP. Foi reconhecida em 2023 pelo MIPAD uma das pessoas negras mais influentes do mundo under 40s e é intercambista de 3 programas internacionais – ONU | ADSEN | YLAI