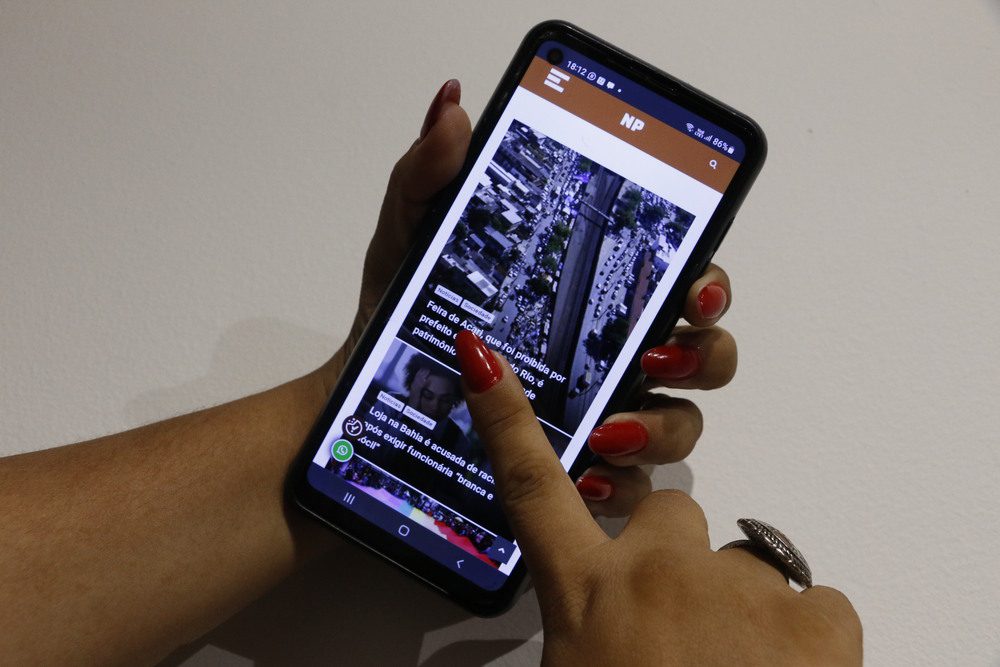Por Mônica Cunha*
Há 20 anos, meu filho do meio, Rafael da Silva Cunha, foi detido pela Polícia e condenado a cumprir medida socioeducativa de internação no DEGASE. Naquela época, eu era uma trabalhadora como outra qualquer, negra, mãe de 3 filhos e não tinha a menor noção de como funcionava a execução de uma medida dessa, o que me forçou a buscar informações e a conhecer pessoas que me apresentaram o Estatuto da Criança e do Adolescente e, consequentemente, os direitos do meu filho. Com isso, pude ver e vivenciar a disparidade entre o que dizia a lei e a realidade vivida por mim e por ele naquele local.

Quando cumpriu toda a medida e pôde retornar para casa, percebi que meu filho havia mudado muito. Em vários momentos, mantinha, dentro de casa, a postura de mãos pra trás e cabeça baixa imposta pelo sistema. Mas eu só percebi a gravidade da situação quando, em uma bronca (esporro mesmo) que lhe dei, à qual ele nem ouviu, eu resolvi chamá-lo pelo número ao qual ele respondia no DEGASE: 033. Imediatamente, ele olhou para mim e me deu atenção. Esse episódio, ocorrido dentro da minha casa, me fez perceber como ferramentas escravocratas ainda estão em uso nos dias de hoje.
A aculturação e a perda da indentidade foram estratégias de controle adotadas pelos escravocratas para manter o sistema produtivo colonial em funcionamento, baseado na força de trabalho dos escravizados. Ao lado da tortura, do estupro e do genocídio, foram sendo aprimoradas ao longo de 388 anos de escravidão e permaneceu presente após a abolição fake promovida pela Princesa Isabel. E, naquele dia, na minha casa, ao lado do meu filho, eu aprendi que o racismo está enraizado, não só nas pessoas, mas também nas instituições voltadas para a juventude negra e periférica. O racismo possui as suas faces institucional e estrutural, sem as quais não seria capaz de se reproduzir com tanta força através das gerações, como afirma Silvio Almeida.
E, por falar em gerações, a minha conheceu a escravidão através de uma ou duas páginas de livro didático, em que eram abordados 388 anos da nossa violenta história. Uma imagem de homem negro algemado, outra de uma mulher negra em tarefas domésticas e por fim, a “redentora” branca que, com uma assinatura mágica, liberta a todos e acaba com seus problemas. A historiografia tradicional, quase que envergonhada, retratava o genocídio, a tortura e o estupro de forma a não lhes dar importância, reproduzindo uma lógica de que os negros escravizados eram categorias inferiores de humanos e não merecem destaque. Precisamos falar de Dandara, Luisa Mahin, Mariana Crioula, entre tantas e tantos que lutaram e deram a vida pelo fim da escravidão. Precisamos gritar que a luta pela abolição se iniciou muito antes do 13 de maio de 1888 e continua até hoje, com a luta antirracista.
Digo isso porque a o racismo continua a querer nos moldar, seja a partir de uma cultura que estimula o “embranquecimento” da população, seja para nos contentarmos com trabalhos braçais e subalternos. Pois foi isso que nos restou quando a “Lei Áurea” foi assinada. Foram necessários mais de 100 anos para que o Estado brasileiro reconhecesse a necessidade de se reparar, ainda que de forma comedida, a dívida com o povo preto, e inaugurasse, aqui no Rio de Janeiro, a política de cotas raciais, fazendo com que hoje tenhamos, nas universidades públicas, uma presença mais representativa de negras e negros entre os estudantes, o que não se vê, ainda, entre os professores.
Mas esse processo está em curso. A cada dia que passa, mais negras e negros tomam consciência da sua condição racial e da necessidade de se enfrentar o racismo, seja ele individual, institucional ou estrutural. É preciso que nós também tenhamos a certeza de que os navios negreiros de hoje são as prisões e unidades socioeducativas, onde a tortura e a morte, a exemplo do que ocorria com os escravizados, continua sendo prática institucional, assim como a Necropolítica Brasileira tem no recorte racial a sua principal expressão, restando, neste tempos de quarentena, ainda mais evidentes as desigualdades raciais, se analisarmos o perfil das vítimas.
Muitos dos nossos se foram na luta abolicionista e antirracista, mas muitos outros se somaram e se somarão pelos seus exemplos.
*Mônica Cunha é fundadora do Movimento Moleque e atualmente coordena a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro