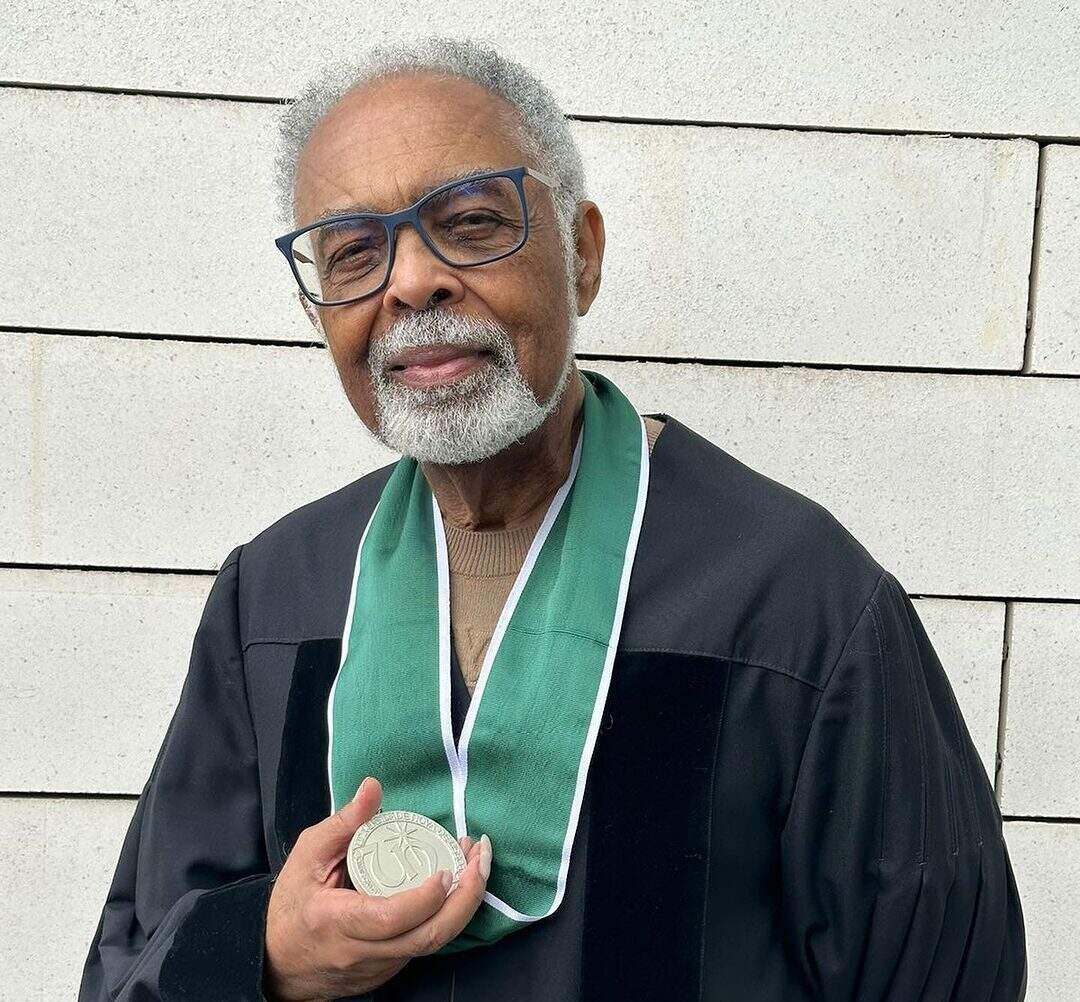Viagens humanitárias promovidas por influenciadoras brasileiras entram no centro da discussão sobre responsabilidade social, jogos de azar e o real impacto da influência digital na estrutura da sociedade
Nos últimos dias, uma polêmica tomou conta das redes sociais e do mercado de influência no Brasil. Influenciadoras brasileiras passaram a ser questionadas após divulgarem ações de caridade realizadas na África do Sul enquanto, paralelamente, promoviam plataformas de jogos de azar, popularmente conhecidas como o “jogo do tigrinho”. A contradição entre o discurso social e a origem dos recursos levantou críticas do público, de outros criadores e de especialistas, levando inclusive à suspensão de projetos e a uma disputa pública entre influenciadores.
O debate vai além de uma crise de imagem individual. Ele escancara um ponto sensível da Creator Economy: até onde vai a responsabilidade ética de quem influencia milhões de pessoas diariamente.

Para Patricia Ribeiro, especialista em Creator Economy, o cerne da discussão não está apenas no ato de divulgar ou não uma marca, mas no entendimento da influência como uma verdadeira infraestrutura social. “O ato de influenciar o outro sempre existiu. Você vai a um restaurante porque alguém te indicou. Mas quando colocamos tecnologia e redes sociais, a influência ganha escala e passa a impactar diretamente todos os lugares. Hoje, o consumo, o desejo e até comportamentos sociais são comandados pela influência digital”, afirma.
Segundo ela, as redes sociais deixaram de ser apenas plataformas de entretenimento e passaram a moldar decisões individuais e coletivas. “As redes ditam tudo, inclusive a forma como a sociedade se organiza. Movimentos sociais, debates políticos e até mudanças legislativas começam no digital. A influência hoje estrutura a sociedade.”
Dentro desse cenário, Patricia aponta que os criadores de conteúdo se tornaram canais de distribuição de mídia nativa extremamente poderosos. “Publicitariamente, faz todo sentido as marcas utilizarem influenciadores. O problema é entender onde termina o storytelling publicitário e onde começa a responsabilidade ética. Até que ponto o influenciador tem consciência racional e emocional do impacto que pode gerar diretamente na vida das pessoas?”
No caso específico das ações sociais, ela reconhece o valor simbólico e inspirador. “Compartilhar ações sociais tendo um alto poder de influência é algo importante e bonito. O ponto crítico surge quando esse discurso convive com a divulgação de jogos de azar, cujo modelo de negócio é baseado na perda do consumidor para o lucro do topo da pirâmide. É uma linha ética muito tênue e, sim, contraditória.”
A discussão se aprofunda quando se observa que muitos dos influenciadores que promovem essas plataformas já possuem alto padrão de vida. “A maioria dessas pessoas não precisa desse dinheiro extra. Ainda assim, justificam dizendo que estão apenas fazendo o trabalho delas, que as casas são regulamentadas e que a responsabilidade é de quem liberou.”
Para Patricia, esse argumento revela mais do que uma brecha legal. “Isso fala sobre ética profissional e maturidade. Se no seu trabalho você sabe que uma ação pode causar prejuízos profundos a outras pessoas, como depressão, falência, rompimento de famílias e até suicídio, você continuaria fazendo apenas porque é o seu trabalho?”
A especialista também chama atenção para o perfil etário da Creator Economy no Brasil. Grande parte dos criadores pertence à geração Z, muitos ainda muito jovens, com acesso rápido a dinheiro, fama e privilégios. “Esse cenário alimenta o ego, mas não necessariamente o amadurecimento emocional. Autoconsciência, controle emocional e responsabilidade social são construções que levam tempo. Não dá para julgar trajetórias individuais, cada pessoa tem sua história.”
LEIA TAMBÉM: Influencer diz que escolas de samba praticam racismo contra brancos: “só falam de mulher preta”
Ainda assim, ela reforça que o debate não pode ser adiado. “Vivemos um paradoxo digital constante. Criticamos a ansiedade, mas seguimos viciados nos estímulos de dopamina das redes. A pergunta que fica é: a culpa é de quem cria o conteúdo, de quem compra esse conteúdo com má intenção ou dos órgãos que não criam regras claras para o mercado?”
Para Patricia Ribeiro, a resposta passa, inevitavelmente, pela regulamentação. “Profissionalmente falando, devemos regulamentar já. Não é aceitável que uma indústria com tamanho impacto social opere sem um crivo ético claro. A influência digital não é só entretenimento, é infraestrutura social. E infraestrutura precisa de regras.”
A polêmica das missões na África, mais do que um episódio isolado, evidencia um momento de amadurecimento forçado da Creator Economy brasileira. Um setor que cresce em escala, poder e relevância, mas que agora precisa encarar, de forma urgente, os limites entre lucro, narrativa e responsabilidade social.